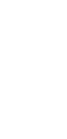Democratização e segurança
RDAI | Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura
Pub Date : 1900-01-01
DOI:10.48143/rdai/08.fkc
引用次数: 0
Abstract
I – As definições O primeiro dever de lealdade do intelectual é a clareza nas ideias, sobretudo quando elas se traduzem naquilo que os lógicos dominaram conceitos mentais, isto é, ideias que servem de instrumento para a apreensão da realidade.1-2 À falta de um sentido unívoco amplamente aceito para esses conceitos, importa explicar em que acepção eles são utilizados: ou seja, apresentar, desde o início da exposição, não uma definição essencial – válida para sempre e em todas as hipóteses – mas uma definição estipulativa, como dizem os semióticos anglo-saxões. Importa, em suma, que o expositor esclareça, preambularmente, em que sentido vai usar conceitos-chave da sua exposição (ou “discurso”), no jargão atual), sem pretender impor esse sentido a outrem, fora do contexto expositivo. Do binômio que compõe o tema deste ensaio, a segurança oferece um passado de elaborações doutrinais muito mais tradicional, em Direito, do que o de democratização. Sem dúvida, porque o problema da segurança é inerente a toda e qualquer experiência jurídica, enquanto a democracia é fenômeno político recente, mesmo na História ocidental, sendo contestável a filiação da experiencia democrática moderna à vida ateniense do Século 8º ao Século 4º, a.C. Comecemos, pois, pela definição da segurança em suas diferentes manifestações. A pesquisa etimológica nos desvenda o núcleo significante do vocábulo: se (no caso, prefixo privativo, síncope de sine) e cura, isto é, cuidado, resguardo, cautela, precaução, preocupação. A ideia central de segurança expressa a tranquilidade, aquietação. No campo ético-jurídico, a segurança traduz a posse tranquila – isto é, livre de perigos – de um bem, uma posição, uma relação social. O que nos dá o sentimento e a situação objetiva dessa posse tranquila é a eliminação ou, pelo menos, o controle dos riscos suscetíveis de afetá-la; ou seja, a garantia. Garantia e segurança são, portanto, termos correlatos. Na linguagem do direito privado, aliás, fala-se indistintamente, em garantia e segurança. Assim, por exemplo, o Código Civil (LGL\2002\400) dispõe em seu art. 762, - I que: “a dívida considera-se vencida se, deteriorando-se, ou depreciando-se a coisa dada em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, a não reforçar”. É, justamente, pela qualidade da garantia que se define a natureza da segurança. Há, com efeito, garantia de fato e garantias de direito. A elas correspondem seguranças fáticas – fundadas na força física, no poder econômico, na capacidade de sedução e assim por diante – seguranças jurídicas, reguladas no sentido de serem suscetíveis de produzir efeitos de direito no interesse do respectivo sujeito, nem sempre são efetivas, a ponto de proteger, real e completamente, os seus interesses. Põe-se, nesse particular, o constante e fundamental problema das relações entre o ser o dever ser, que não pode ser resolvido em termos de separação absoluta, como pretendeu Hans Kelsen e sua escola, nem sob a forma de um reducionismo unilateral, dos fatos do Direito – como preconizaram os jusnaturalistas – ou então, pelo contrário, do Direito dos fatos – como pareceu a alguns juristas modernos, como Karl Olivecrona. A relação entre fatos e normas, entre ser e dever ser, compõe uma dialética integrativa insuprimível. As instituições jurídicas existem enquanto valem, normativamente, no mundo dos fatos. O Direito é obviamente norma ou dever ser. Mas uma ordem normativa puramente ideal, ou confinada à letra das leis, é um fantasma, como dizia Jhering. Assim, não há segurança jurídica que não tenha, ainda que em grau mínimo, uma existência efetiva. Ora, sob o aspecto da certeza de aplicação da norma, a segurança é uma dimensão essencial do Direito. Indagar o fundamento último da segurança jurídica (em razão de que existe ela?) equivale a perquirir o próprio fundamento do Direito. Não creio simplificar excessivamente o panorama histórico do pensamento ocidental, dizendo que as respostas a essa indagação podem ser classificadas em três grandes correntes. Há os que identificam no poder efetivo, no controle incontestável das ações humanas o fundamento último da segurança jurídica. Hobbes é, sem dúvida, o primeiro e maior expoente dessa corrente de pensamento na idade moderna. Ele reconhece em cada homem o direito natural à própria sobrevivência e à satisfação de seus elementares interesses. É nisso que nos revelamos como seres sujeitos à lei comum da natureza. Mas esta lei natural conduz necessariamente, como no reino animal, a um estado de guerra permanente de todos contra todos, ao salve-se quem puder; em uma palavra, à insegurança coletiva, geradora da autodestruição. A supressão desse estado de guerra, que é a miserável condição do homem enquanto animal, exige uma auto-restrição dos direitos naturais de cada um, constituindo-se acima de todos um Poder – sob a forma de um monarca ou uma assembleia – encarregado de zela pela segurança de todos e de cada qual. Todas as normas emanadas desse Poder, no interesse da segurança coletiva, são legítimas; e ninguém pode alegar direitos individuais que entrem em conflito com as normas ditadas pelo Poder, no exercício de sua função máxima3. A segunda grande corrente de pensamento que procurou responder a indagação sobre o fundamento da segurança jurídica é o consensualismo. Ele principia com Rousseau, que por sua vez remonta ao própria Hobbes. Rousseau aceita a análise de Hobbes – que, de resto, era comum a todos os pensadores ocidentais dos Séculos XVII e XVIII – da radical oposição entre o estado de natureza e o estado de direito. Reconhece também, com ele, que o estado de natureza é o domínio da insegurança geral e que os homens se unem juridicamente em sociedade para assegurar sua sobrevivência, mediante alienação – de todos para todos – de uma parcela de sua soberania individual. Mas – e aí vai o grande desvio em relação a Hobbes e a especial contribuição de Rousseau – essa fundação jurídica da sociedade não constitui um Poder personalizado, acima dos homens. Constitui, isto sim, um soberano coletivo – o conjunto dos homens naturais, tornados cidadão (homens civis) – cujas deliberações se pautam pela regra absoluta da vontade geral. Esta não representa a soma de vontades individuais quaisquer, nem mesmo a unanimidade destas; mas é a vontade dos cidadãos submetida ao pacto fundamental da sociedade civil, cuja razão de ser é a preservação dos sócios, libertos da lei natural. A segurança jurídica funda-se, pois, em última análise, no consentimento dos homens, geralmente manifestado após a fundação da sociedade civil, pela deliberação majoritária, mas que, pelo menos uma vez, isto é, no momento mesmo dessa fundação da sociedade civil, foi unânime. Por isso mesmo, Rousseau não admitia, como sabido, o sistema representativo de governo. E há também, por fim, o conjunto dos adeptos da explicação transcendentalista, os que preferem fundar a segurança jurídica, não no Poder nem tampouco no consenso social, mas em valores que transcendem as vicissitudes históricas de um e de outro. São as explicações da segurança jurídica pela lei divina, a razão natural, ou os valores sociais, supremos e imutáveis. A segurança do Direito provém de sua conformidade com a justiça, que não é definida pelo soberano – seja ele um monarca, uma assembleia ou o próprio povo – mas traçada pela razão, divina ou humana. O unilateralismo dessas concepções já não escapa a ninguém. Mas é difícil negar a parte de verdade que cada uma delas encerra. A irrecusabilidade do poder, como elemento componente de toda sociedade, em necessária contraposição ao conjunto dos sócios ou governados, é inegável. A reusa dessa verdade, numa concepção de democratismo radical, conduz fatalmente à decomposição anárquica ou à exacerbação totalitária. Mas o poder não é fundamento último da segurança, como não é fundamento do Direito. Ele é, meramente, o instrumento de sua imposição. O Direito não deve ser obedecido em nome do poder, mas a outro título, que justifica o próprio poder. Esse título justificativo de toda a ordem jurídica só pode ser a pessoa humana, como fonte universal de valores; a pessoa, que não é um ser abstrato, existindo fora das dimensões determinantes de tempo e espaço, mas um ente submetido aos condicionamentos concretos da vida histórica. Não há, portanto, valores humanos que transcendam a História. O consensualismo, que engendrou politicamente o princípio da soberania popular, explicita uma boa parte da verdade quando funda a ordem jurídica na deliberação majoritária. Pois há, sempre, maior probabilidade de que os valores essenciais da pessoa humana sejam expressos pela maioria e não pelas minorias. É óbvio, no entanto, que essa probabilidade nunca é certeza e a massa pode também ser objeto de grandes manipulações. Daí por que se deve entender a democracia como o regime fundado tanto na lei da maioria, quanto no respeito aos direitos individuais. O princípio majoritário, por si só, não protege as democracias da decadência demagógica, ou dos abusos da maioria. Como se vê, a discussão do primeiro termo do binômio “segurança e democratização” leva naturalmente ao âmbito de indagações compreendidas no segundo termo. O que mostra a indissociável correlação das ideias. Falta, no entanto, para se completar esta rápida disquisição sobre a segurança, analisar os seus sujeitos. Em termos práticos e para simplificar a questão, é de se indagar quem tem direito à segurança. A resposta a essa questão, por mais banal que pareça, exige se compreenda, preliminarmente, que toda situação de segurança existe contra algo ou alguém, diante de um perigo concretizado em fatos da natureza ou ações humanas. Classicamente, afirma-se que os indivíduos têm direito a uma vida segura diante dos outros indivíduos ou do poder estatal (perspectiva do direito interno, na interpretação da filosofia liberal) e que as nações têm direito à segurança, umas perante as demais. O que tem sido menos sublinhado é que entre o indiví民主化与安全
知识分子忠诚的首要责任是思想的清晰,特别是当思想转化为逻辑学家所掌握的心理概念时,即思想作为理解现实的工具。1 - 2缺乏统一的意义被广泛接受的概念,他们是用来解释的意义:即,展览展示,从一开始的,不是一个有效的基本概念—永远和在每一个机会—但estipulativa定义,正如他们所说的盎格鲁-撒克逊的符号学。简而言之,重要的是,参展商必须事先澄清,在什么意义上,他将使用他的展览的关键概念(或“演讲”,在当前的行话),而不打算把这个意义强加给其他人,在展览的背景之外。在构成本文主题的二项式中,安全提供了一个在法律上比民主化更传统的理论阐述的过去。,因为安全的问题毫无疑问是固有的任何法律经验,而民主是最近的政治现象,尽管他们在西方历史上,怀疑是8世纪的雅典现代民主的生活经验ºº,从公元前4世纪,因为保安的定义在不同的表现。词源研究揭示了这个词的重要核心:如果(在这种情况下,专有前缀,正弦晕厥)和治愈,即护理,保护,谨慎,预防,关注。安全的核心思想表达了宁静、平静。在伦理和法律领域,安全意味着平静地拥有一种商品、一种地位、一种社会关系,也就是说,没有危险。给我们这种安静占有的感觉和客观情况是消除或至少控制可能影响它的风险;换句话说,保证。因此,保证和安全是相关的术语。此外,在私法的语言中,“保证”和“安全”是互换使用的。因此,例如,《民法典》(LGL\2002\400)在其第1条中规定。762, - I规定:“如果作为担保提供的东西恶化或贬值,使担保丧失抵押品赎回权,而被传唤的债务人不愿加强担保,则债务视为到期。”安全的本质是由保证的质量来定义的。事实上,有事实的保障和法律的保障。相应安全fáticas—基于身体力量,经济力量,在诱惑的能力等等—安全,法律监管可能产生影响的法律利益的对象,并不总是有效的保护的,真实的和绝对的利益。得到,这不断的基本的问题之间的关系和责任,不能解决的绝对分离,凯尔森的学校,甚至单方面还原论的形式,法律事实—与推荐的jusnaturalistas—或者,相反,法律事实—现代的律师,看了,像卡尔Olivecrona。事实与规范、存在与必须的关系构成了一种不可抑制的综合辩证法。法律制度只要在事实世界中具有规范价值就存在。法律显然是规范,或者应该是规范。但是,正如杰林所说,一个纯粹理想的规范秩序,或局限于法律条文的规范秩序,是一个幽灵。因此,即使在最低程度上,也没有没有有效存在的法律确定性。就适用规则的确定性而言,安全是法律的一个基本方面。质疑法律确定性的最终基础(它为什么存在?)等于质疑法律的基础本身。我不认为把西方思想的历史全景过于简单化,我说这个问题的答案可以分为三个主要流派。有些人认为有效的权力,对人类行为无可争议的控制,是法律确定性的最终基础。霍布斯无疑是现代这一思想流派的第一个也是最伟大的倡导者。它承认每个人都有生存和满足其基本利益的自然权利。在这一点上,我们揭示了自己是受自然法则支配的存在。但是,就像在动物王国里一样,这一自然法则必然会导致一种永久的战争状态,即所有人都对所有人进行战争,谁能拯救谁就拯救谁;简而言之,是集体不安全,是自我毁灭的根源。删除这个战争状态,是人的悲惨境遇而动物,需要自我约束的自然权利,最重要的是一种力量—国王或议会的形式—负责确保安全的每一个。 最不被强调的是,在个人中
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文
求助全文

 求助内容:
求助内容: 应助结果提醒方式:
应助结果提醒方式: